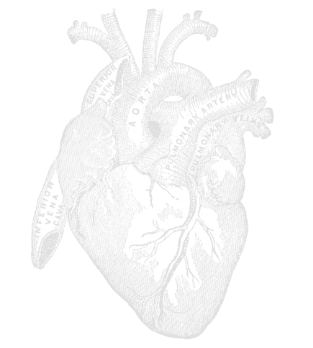Do cauim ao vinho natural ( artigo para The Preserve )
Vinho no Brasil: Do cauim ao vinho natural.
Por Lis Cereja
“São as mulheres que preparam as bebidas. Usam raízes de mandioca e cozem-nas em grandes panelas. Quando está cozida, retiram a mandioca das panelas, despejam-na em outras panelas e deram que esfrie um pouco. A seguir, sentam-se meninas em volta e as mastigam, e colocam o mastigado em um vaso especial. Quando todas as raízes foram mastigadas, colocam o mastigado de volta na panela, desejam água por cima, misturam ambos e deixam ficar quente de novo. Então há vasos especiais que enterram pela metade dentro da terra e que usam como se usa por aqui para o vinho e a cerveja. Despejam a massa dentro e fecham-nos bem. Então a fermentação ocorre sozinha e a massa fica forte. Deixam-na em repouso por dois dias. Depois bebem-na e embriagam-se.” Hans Staden, Viagens e Aventuras no Brasil, 1557.
Abril de 1500. Os invasores portugueses chegaram na costa brasileira com dez naus, três caravelas e uma tripulação de 1500 homens – entre eles soldados, árabes, indianos, condenados, escrivões, oito frades e oito clérigos franciscanos. Junto com eles, cabras, vacas, sífilis, gripe, baratas e alguns barris de vinho alentejano.
A população nativa do país, naquela época em que o Brasil não era chamado de Brasil, era de cerca de oito milhões de pessoas, divididas entre mais de 1000 tribos de diferentes etnias. Índios Tupiniquim, Potiguar, Tamoio, Carijó, Charrua, Guarani. Mais de metade de todos esses nativos estavam concentrados na Amazônia brasileira, dividindo território com o que hoje é o Peru, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia.
Não é de se espantar que os nativos tenham recusado a primeira oferta de vinho feita pelos invasores. Nós tínhamos as nossas próprias tradições de bebidas fermentadas, e preferíamos o caium ao vinho.
Chamado pelos próprios portugueses de “vinho dos índios”, o caium é uma bebida fermentada feita à partir de mandioca. Hans Staden foi feito prisioneiro pelos nativos Tupinambás, no litoral de São Paulo, em 1554, e acompanhou de perto alguns dos costumes nada convencionais para os homens brancos da época, entre eles o consumo de bebidas fermentadas ritualísticas, a poligamia e a antropofagia.
“Não quiseram comer daquilo, quase nada; e alguma coisa, se a provaram, lançavam-na logo fora. Trouxeram-lhe vinho por uma taça; puseram um pouco na boca e não gostaram nada dele, nem o quiseram mais. ” Pelo Vaz de Caminha, 1500.
Foi também no litoral de São Paulo, mais precisamente em São Vicente, que foram plantadas pelo fidalgo Brás Cubas as primeiras videiras, por volta de 1535. Não vingaram. Brás Cubas então subiu a serra e fez outra tentativa no planalto do Piratininga, por volta de 750m acima do nível do mar, onde hoje é a região leste da cidade de São Paulo, bairro do Tatuapé. Esse foi provavelmente o primeiro vinhedo realmente produtivo da história do vinho brasileiro, embora hoje por ali não existam mais videiras.
A variedade de plantas, animais e frutas brasileiras é gigantesca. Mas parreiras não são nativas em nosso território, e até hoje não se tem notícia de espécies autóctones sul americanas. Martim Afonso de Souza foi o primeiro fidalgo a trazer videiras para nosso país, provavelmente através de sementes, que eram mais fáceis de transportar durante as navegações do que estacas.
Relatos dos “insucessos” no plantio de videiras em solo brasileiro são inúmeros durante todo o período de colonização. Pudera. Podemos facilmente entender o estranhamento das plantas se imaginarmos o estranhamento dos homens que as trouxeram para cá, chegando, depois de viajar 42 dias pelo atlântico, em terras quentes, úmidas, com microbiota vibrante e desconhecida.
Mas parreiras se adaptam tanto – ou mais – à terras estrangeiras do que os homens, e aqui não foi diferente. Até porque sem vinho de uva não havia missa, e vinhedos eram imprescindíveis nas missões cristãs do novo mundo, que tentavam à todo custo convencer os nativos nus de que a poligamia, o nomadismo e o canibalismo não eram costumes civilizados.
Antes do Brasil se chamar Brasil, éramos “terra dos papagaios” ou “terra dos canibais” para o velho continente. A tentativa de “civilização” foi apenas o início de um etnocídio massivo que reduziu as populações de nativos brasileiros – desde a invasão européia – de 8 milhões para cerca de 800 mil nos dias de hoje. Foram centenas de povos, línguas e tradições completamente extintas ao longo desses cinco séculos, e até hoje, mantendo a tradição, o Brasil é um dos países líderes no extermínio de povos indígenas – bem como no desmatamento, tão ligado à preservação das terras, povos e costumes desses mesmos povos. Chegamos a desmatar quase 100km de florestas somente em Janeiro de 2019.
Olhando por essa perspectiva, talvez o ‘vinho de uva’ perca um pouco de seu romantismo por aqui, em terras tupiniquins. Obviamente que nem os vinhos nem as videiras tem responsabilidade sobre isso. Mas não podemos deixar de lado o fato de que o vinho, sendo um produto cultural europeu e muito ligado à religião cristã, também fez parte do arsenal do colonizador, e as tentativas de “civilização” foram tão eficientes que mesmo hoje boa parte dos brasileiros sabe o que é vinho, mas não sabe o que é caium.
Bebidas fermentadas que passam por processos de mastigação não são exclusividade dos nativos brasileiros. A chicha, no Peru, o pikami, no Arizona, o kawa, na Polinésia, passam por processos semelhantes: a ptialina presente na saliva transforma o amido e o açúcar em maltose e dextrina, levando à sacarificação e permitindo que a fermentação ocorra. Por aqui, raízes e grãos, como mandioca e milho, eram os mais utilizados, e por vezes também frutas também.
Embora houvesse a presença de bebidas fermentadas e alcóolicas nas populações indígenas pré colônia, a bebida consumida no dia-a-dia era a água fresca, coletada pelas mulheres. Não havia o hábito de estocar água nas ocas, pois era um recurso abundante e sempre disponível à curta distância. O hábito de guardar água em potes veio depois da chegada por Europeus, assim como o costume de beber sucos. As frutas eram comidas, a não ser quando as utilizavam para bebidas fermentadas. O suco de fruta foi invenção dos europeus, feitos com água, frutas e utilizando açúcar dos engenhos coloniais.
“ Outras muitas frutas há nesta província de diversas qualidades comuns a todos, e são tantas que já se acharam pela erra dentro algumas pessoas as quais se sustentam com elas muitos dias sem outro mantimento algum. Algumas deste Reino também se dão nessas partes, convém a saber, muitos melões, pepinos, romãs e figos de muitas castas; muitas parreiras que dão uvas duas, três vezes ao ano… ” Pero de Magalhães Gandavo, História da Província de Santa Cruz – a terra que vulgarmente chamamos Brasil, 1576.
“Vinhos” de abacaxi, caju, jenipapo, batatas doces, milho, banana, mel, mandioca e suas infinitas derivações de mastigação, fervura, diluição e misturas eram e são encontrados em todo o território brasileiro, embora sua incidência tenha diminuído ou desaparecido com o surgimento e crescimento dos centros urbanos. Pacobi, Nanaí, Ietici, Ianipaba, Beeutingui, Tipiaci, Abatií, Aipij, Caoí – são alguns dos vinhos indígenas de frutas, raízes e grãos documentados na primeira metade do século XVII. No século XIX surgem já o caxiri de beijú de mandioca fermentado e a tiquira, também de beiju de mandioca, mas destilada.
“Com mel pode-se também preparar licor, sem levá-lo ao fogo; apenas misturando-o com água da fonte e deixando-o ao relento”. Memorável Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil, 1682, Joan Nieuhof.
Importante lembrar que embriagar-se de maneira solitária – costume de homem branco – era raro entre os povos indígenas. As bebidas sempre tiveram função grupal ou ritualística, e a destilação era um processo desconhecido pelos nativos brasileiros. Sua introdução mudou radicalmente a relação dos homens com o álcool. No século XVI os europeus já conheciam os processos de destilação, enquanto os africanos e indígenas americanos tinham familiaridade apenas com os fermentados.
Contavam os cronistas que quando bebiam não comiam, e quando comiam não bebiam. Os indígenas se embriagavam em ocasiões específicas, as caiunagens, de carácter longo e festivo, às vezes durante dias. É de se imaginar que o teor alcoólico baixo dos fermentados fizesse com que a embriaguez se desse de maneira lenta e progressiva – ao contrário do efeito agressivo e quase imediato dos destilados apresentados pelos portugueses ou feitos nos primeiros alambiques da colônia. “Caium-tatá” ou “bebida de fogo”: eram assim chamadas pelos povos nativos as bebidas destiladas.
“Parece certo que algum deus Baco passou a estas partes a ensinar-lhes tantas espécies dele, que alguns contam trinta e duas. Uns fazem de fruta que chamam acaiá, outros de aipim, outros de macaxeira, outros de pacova, a que chamam pacouí, outros de milho, a que chamam abativi, outros de ananás, que chamam nanavi, e este é mais eficaz, e logo embebeda. Outros de babata, que chamam jetivi, outros de jenipapo, outros que chamam de bacutingui, outros de beiju, ou mandioca, que chamam tepiocuí, outros de mel silvestre, ou de açúcar, a que chamam garapa, outros de cajú, e desde em tanta quantidade que podem-se encher muitas pipas, de cor a modo de palhete. Deste vi eu uma frasqueira, e se não fora certificado do que era, afirmava que era vinho de Portugal”. Crônica da Companhia de Jesus, de Simão de Vasconcelos, 1663.
Uma das bebidas recorrentes ainda hoje, em certas regiões de Minas Gerais e Bahia é o aluá, fermentado que já era conhecido pelos povos indígenas, mas foi batizado pelos africanos em solo brasileiro. É elaborado a partir de milho ou farinha de milho, cozido e fermentado por longos períodos. Versões dessa bebida feitas com arroz e cascas de abacaxi também são recorrentes. Em uma versão primária do aluá os indígenas fermentavam somente o milho – e a adição de rapadura ou açúcar mascavo “para fermentar mais e melhor” foi posterior aos europeus e à era açucareira.
A cana de açúcar, asiática, veio para o Brasil pelas mãos dos portugueses. Assim como as videiras, a cana não fazia parte do repertório alimentar dos nossos povos até a sua introdução pelos próprios europeus, interessados na implantação de colônias de açúcar. A cana, de personalidade mais expansiva que a videira, se espalhou pelo país e o Brasil se tornou rapidamente uma importante colônia de açúcar. O destilado feito a partir da cana fermentada – que hoje conhecemos como cachaça – em pouco tempo se configurou como bebida nacional, e os ecos de uma produção massiva de açúcar ressoam até hoje em nossa doçaria e na preferência dos brasileiros pelos paladares adocicados.
“O açúcar embriagava muito mais do que o vinho. Quando o cardeal Alexandrino, legado do Papa Pio V, visitou Portugal em 1571, hospedou-se no Paço da Vila Viçosa, residência de D. João, sexto duque de Bragança. Notou a aluvião de doces servidos e a sem-cerimônia com que o pasteleiro ducal polvilhava de açúcar e canela quase todos os pratos”. Luís da Câmara Cascudo, 1967.
Algumas décadas antes da chegada da cana os jesuítas começaram a vinificar, junto aos índios guaranis, os primeiros vinhos na região Sul do país. Em 1626, o Padre jesuíta Roque Gonzales de Santa Cruz, espanhol, plantou vinhedos no que seria, séculos mais tarde, uma das principais regiões vitivinícolas do país, o Rio Grande do Sul. Ali, as variedades ibéricas se adaptaram melhor do que no resto do país.
Provavelmente as uvas introduzidas na região de Sete Povos das Missões eram as mesmas que fizeram a viticultura acontecer no Chile e Argentina, e que ressurgiram séculos depois no movimento de vinho natural latino americano – as chamadas variedades missioneiras como a Criolla, Missión ou País, originárias da Listán Negro das ilhas Canárias.
As missões jesuíticas foram destruídas pelos bandeirantes e o sertanismo, que durante todo o século XVI e XVII se embrenhou pelos interiores de nosso país à caça de índios para mão de obra escrava, madeiras e minérios. “Sem fé, nem lei, nem rei” como dizia Gandavo. Havia na época uma distinção clara entre os povoados e o sertões, que não eram apenas interiores geográficos, mas interiores subjetivos, já descritos nas cartas de Pelo Vaz de Caminha. Os primeiros eram controlados pela religião católica e pelo reinado. Os “sertões”, um espaço geográfico e simbólico de vastidão, desconhecido e desordem.
“A língua de que usam, toda pela costa, é uma: (…) Carece de três letras, convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei, e desta maneira vivem desordenadamente.” História da Província de Santa Cruz, de Pero Magalhães de Gandavo, 1578
Dezenas de etnias nativas desapareceram em toda a extensão de nosso país – num massacre contínuo que perdura até os dias hoje. Extirpados por armas, lutas internas e externas, guerras, bandeirantes e doenças “de branco”, milhares de índios – como foram chamados nossos nativos – foram apagados de nosso mapa recém cartografado. Séculos mais tarde não teríamos mais os sertanistas nem os bandeirantes, mas sim o agronegócio, herdando o papel genocida em prol do desenvolvimento agrícola e da produtividade. Monoculturas de soja, milho e pastagens infinitas de gado substituíram a mandioca, o inhame, o milho crioulo e as roças indígenas.
Entre o século XVI e o século XIX cerca de 5 milhões de africanos chegaram em terras tupiniquins sob a condição de escravos. Também da África vieram os grãos café, que a partir do século dezenove se transformaria em nova potência econômica, arraigada de tal forma em nossa cultura que até hoje a primeira refeição do dia chamamos de “café da manhã”.
“Bebamos, companheiros, bebamos companheiros, o suco da uva, o vinho verdadeiro”. Esse era o canto do cortejo ao Deus Baco, que saía no primeiro domingo depois do domingo de Páscoa, da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Guararapes, perto de Recife, nordeste do país. Após o ritual litúrgico, a multidão caminhava cantando, com seu andor e galhos de árvores nas mãos. Baco levava uma garrafa de vinho e uma coroa na cabeça, sendo levado pela multidão até as águas do rio, onde era batizado. Em 1869 essa tradição foi proibida, a mando dos eclesiásticos. Não se podia tolerar o culto à um deus pagão em país católico – e a infantaria e a cavalaria, por fim, deram cabo às festividades, que nunca mais aconteceram.